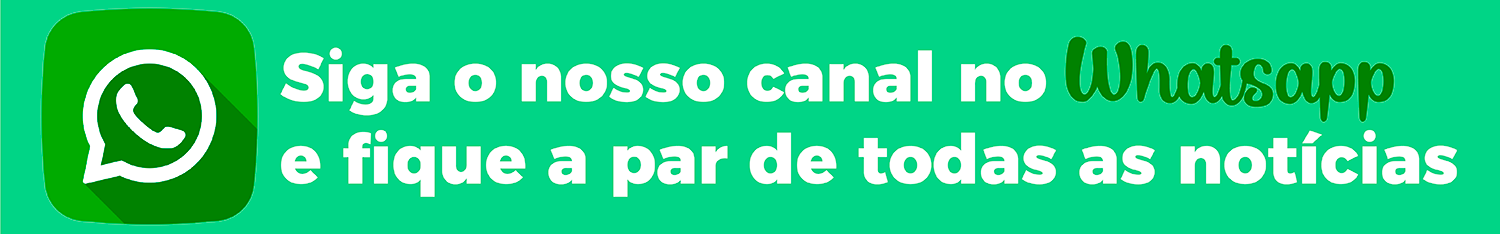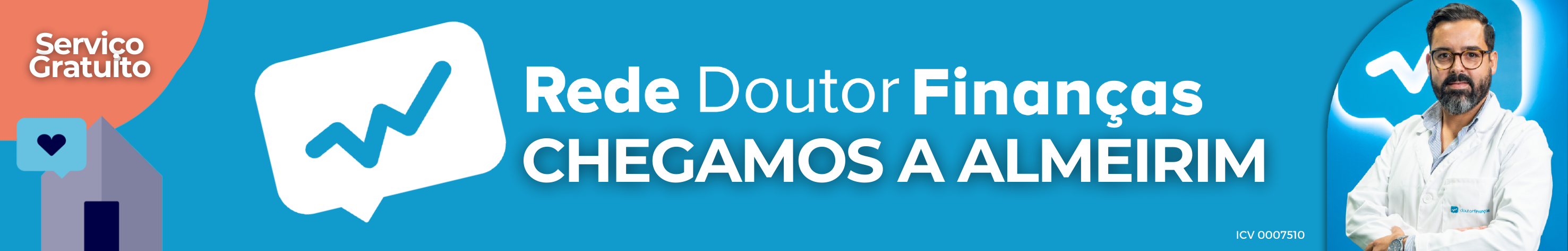Há dias ouvi, de uma pessoa que muito admiro, a seguinte frase “gosto de estar no Alentejo porque lá nós é que gastamos o tempo”.
Aquela frase veio-me à memória nos dias seguintes, quando cheguei à hora marcada a uma reunião e me pediram para esperar “só um bocadinho”, transformando-se em mais de uma hora de espera, quando a minha filha tinha uma vacina agendada para as 9:30 e teve de esperar até às 12:00 horas, quando fiquei uma hora e meia preso no trânsito porque Lisboa não é uma cidade à prova de água.
De facto, com a vida que levamos, poder gastar o tempo é um enorme privilégio ao qual nem sempre damos o devido valor. Invariavelmente, é sempre o tempo que nos gasta a nós ou, pior, deixamos que sejam os outros a gastar o tempo que devia ser nosso, que, no fim de contas, é a medida de grandeza com que se mede a nossa vida.
E o problema de tudo isto é que a vida não é um jogo de futebol. No final, não há árbitro que nos conceda compensação pelo tempo que nos gastou.
Mas sinto que não tenho a necessária grandiloquência para continuar nesta dissertação filosófica, por isso – e para não vos gastar mais tempo – vou direto ao ponto.
Se para a nossa vida pessoal o tempo é a vida em si mesmo, para as empresas tempo é dinheiro e, num país com uma dificuldade crónica em aumentar a produtividade, importa perceber que o problema não está só no perfil das atividades económicas, nem só no nível de qualificação dos trabalhadores, nem só na sagacidade dos empresários. Há uma parte, pequena, mas não negligenciável, cuja melhor forma que tenho para definir é de autossabotagem cultural crónica do indómito espírito lusitano. E elenco três aspetos para provar o meu ponto e evidenciar que, feitas as contas, as empresas perdem muito dinheiro apenas por viés cultural de quem as dirige.
Teletrabalho:
Depois de ultrapassada a pandemia, foram essencialmente as empresas multinacionais que mantiveram o teletrabalho. Com isto, expuseram-se novos desafios na relação contratual entre o trabalhador e a empresa, muitos que ainda estão por ser ultrapassados, mas para as empresas as vantagens foram óbvias: redução de espaço de escritórios, o que até vem ajudar na resolução do problema da habitação em grandes centros urbanos; redução de despesas mesmo com aumento de salários; e aumento de produtividade, um dado ainda bastante contraditório porque a maior parte dos estudos foram feitos durante a pandemia, mas empresas como a PwC, a EDP, a Siemens e a Bial apontam o regime híbrido como aquele que obtém melhores resultados produtivos.
Então porque não é uma prática que se tenha tornado mais massificada? Haverá muitas respostas que podem ser dadas, mas, no fim do dia, a verdadeira relaciona-se com o ethos colonialista que ainda resiste na sociedade portuguesa. No imaginário de muitos empresários, o funcionário só trabalha com um capataz em cima dele. Neste, como em vários outros aspetos, há uma falta de confiança crónica e cultural generalizada do patronato português que prefere o controlo à autonomia, na maior parte das vezes em sacrifício da maior rentabilidade.
Reuniões presenciais:
Como eu, já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem que “as reuniões presenciais são muito mais produtivas porque é importante o contacto físico”. E já reparou que a esmagadora maioria das pessoas que profere esta frase responde pelo género masculino? E ao contacto físico podemos juntar a conciliação sensorial promovida nos “almoços de trabalho”, uma invenção mais tuga que o pastel de nata e que faz, realmente, andar este país para a frente.
Esta forma felina de utilizar os cinco sentidos para fechar negócios dá que pensar sobre a racionalidade dos argumentos que levam à conclusão desses mesmos negócios. Mas, passando à frente do modus operandi, nos casos em que é a racionalidade técnica, económica e intelectual que conta, na maioria das vezes a empresa pode poupar em deslocações, valor hora do funcionário perdido nessas mesmas deslocações e refeições, havendo um incentivo à prática das reuniões por videoconferência. Por exemplo, por cada deslocação de um funcionário de uma empresa sedeada em Santarém para uma reunião no centro de Lisboa a empresa perde entre 75 e 100€. Se a empresa estiver sedeada em Leiria já perde mais de 120€.
Deslocalização:
Outro traço cultural que nos caracteriza, não só no âmbito empresarial, é a necessidade de estar perto dos centros de poder. Atualmente, isto origina situações tão absurdas como o Ministério da Agricultura estar sedeado em plena Praça do Comércio que, para além de ser o símbolo máximo do centralismo lisboeta, é um local onde, praticamente, nenhum carro da frota automóvel do Ministério da Agricultura – com uma idade média das viaturas seguramente superior a 20 anos – pode aceder por ser uma zona de baixas emissões ou o Ministério do Ambiente estar sedeado no Príncipe Real, uma das zonas com pior qualidade do ar no país.
Quem fala das dependências governamentais fala das empresas que sentem necessidade de girar na órbita da esfera do poder da capital. Mas, em 2023, retirar as sedes e os escritórios do centro de Lisboa não significa perder centralidade, nem poder de influência. Significaria devolver verdadeiramente a cidade às pessoas, dar qualidade de vida à cidade e ao subúrbio e levar a economia para o interior, trazendo, com isso, o necessário investimento (não só público) em transportes públicos, em redes digitais, em cultura, em ciência, em educação, em saúde, em desporto, …
Claro que a concretização destes três desígnios só se efetiva com os incentivos certos em matéria de políticas de coesão que, quanto mim, têm olhado para o interior do país como um museu vivo que o citadino visita ao fim-de-semana. O interior do país pode ser mais do que agricultura e serviços. Pode ser indústria, inovação, economia digital, administração central e os unicórnios do Moedas. Estou certo que há espaço e oportunidade para tudo.
Mas mais difícil do que mudar a política, é mudar a cultura. Enquanto isso, o tempo não para de nos gastar.
João Bastos